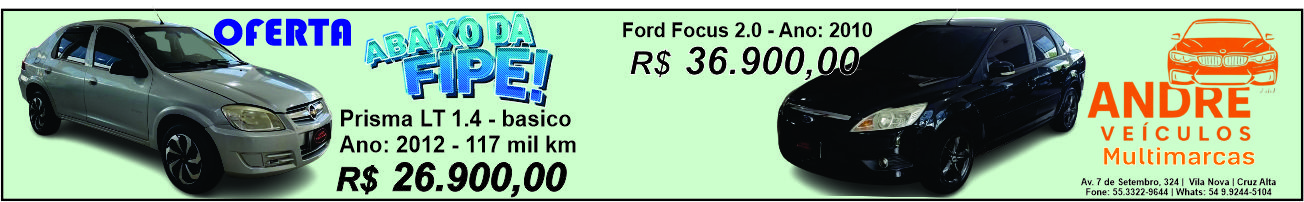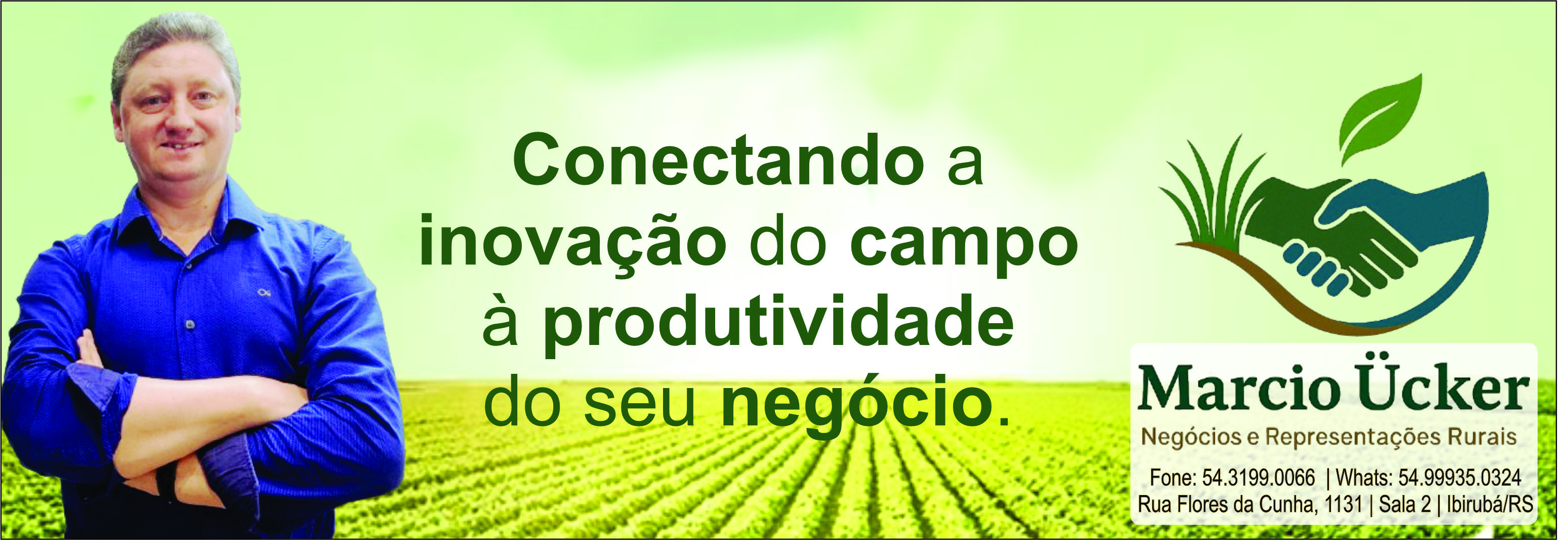Minha mãe disse duas frases ao sairmos do cinema depois de vermos “Homem com H”, de Esmir Filho, sobre a vida de Ney Matogrosso, em maio deste ano. “Gostei, mas podia ser um pouco menos pornográfico”, ela falou não de forma conservadora, mas porque queria ter visto mais de outros aspectos da vida de seu artista favorito. E depois, num tom de quem se sente legitimada no que sente: “vocês não fazem ideia do medo que a gente sentiu naquela época. Você já tinha feito duas cirurgias, ninguém usava seringa descartável”.
Foi a epidemia de Aids na década de 1980 que me sensibilizou especialmente no filme também. A pergunta “quem agora?”, após uma ligação que evidenciava mais uma morte, mais uma vítima da doença, resume um período traumático no Brasil e no mundo, que deveria ser mais lembrado.
Recentemente, o presidente dos Estados Unidos interrompeu o fornecimento de medicamentos para HIV a países ajudados pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID). Em seguida, encerrou um programa que era fundamental para a busca da vacina contra o vírus, com financiamento próximo a um R$ 1,5 bilhão.
Quando li essas notícias, tinha achado catastrófico. Lembrei-me de uma entrevista em que o pesquisador Marcelo Soares explicava que, na falta do tratamento antirretroviral, o vírus, que estava controlado, começa a se replicar em níveis astronômicos. “São milhões de partículas virais geradas por dia em um indivíduo infectado que não esteja sob tratamento. Então rapidamente você atinge a carga viral de novo em poucas semanas”.
O filme deu a essa catástrofe uma dimensão imensamente maior. Ao acessar a dor que Ney Matogrosso sentiu por todos que ele veria morrer, lentamente; o estranhamento que ele sentiu ante o seu inexplicável resultado negativo para o vírus, após fazer as mesmas coisas que todo mundo; e o medo por si e pelos outros que todos ao seu redor sentiam. Que todos em todo lugar sentiam. Que até a minha mãe sentia.
Essa dor tem um rosto muito forte no Brasil, que acabou se tornando a referência mundial no controle da doença. Foi doloroso rever o fim da vida de Cazuza, pelos olhos de Ney, 20 anos depois de “O Tempo não Para”. Mas foi catártico vê-lo não agonizando em praça pública, mas produzindo seu último disco, seu último show, também aos olhos de Ney.
Sei de alguns poucos amigos soropositivos. Nenhum deles fala abertamente do assunto. É um silêncio autoimposto. Foi a falta de tratamento a tempo que vitimou pessoas como Cazuza. Quarenta anos depois, eu me pergunto se é a falta de acesso ou o preconceito que mata a maior parte das pessoas que têm o vírus. O estigma mata.
Dirceu Greco, professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais e infectologista pioneiro no enfrentamento à Aids no Brasil, na década de 1980, lembra que, quando Henfil morreu, noticiaram sua morte como a de uma “vítima inocente” da doença. Isso porque o cartunista havia contraído o vírus por transfusão necessária de sangue. Henfil era inocente, porque, para a imprensa da época, as pessoas que haviam contraído o vírus em relações sexuais seriam culpadas pela própria doença.
Greco conta que ele mesmo passou a ser estigmatizado pelo trabalho que realizava na Faculdade de Medicina e no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Embora atendesse pacientes com diversas doenças altamente contagiosas, tais como meningite, tuberculose e sífilis, tudo que era vinculado ao médico passou a ter o carimbo implícito da Aids.
“Eu não era especialmente corajoso, já sabíamos os modos de transmissão do HIV. Não dá para trabalhar com um medo que não passa de preconceito. E o medo pode e deve ser enfrentado com informação clara em linguagem simples. As pessoas muitas vezes evitavam falar comigo nos corredores, por medo de que alguém visse e pensasse: ‘será que ela está infectada?’. Essa fase durou até a década de 1990”.
Uma vez conversei com uma microbióloga francesa sobre o início da pandemia. Fiquei apavorada por ela, pensando no medo que devia sentir ao lidar com o coronavírus tão de perto —ao que ela me lembrou que já trabalhava com marburg e ebola em estruturas altamente protegidas. Nossos medos são muitas vezes decorrentes de mundos pequenos demais.
Eu já tinha escrito este texto quando soube da impactante série “Máscaras de Oxigênio não cairão automaticamente”. Nos dois episódios (de cinco) disponíveis, todas as vítimas da Aids são inocentadas. O medo do vírus bate em todas as portas, o pavor estampa as capas de todas as revistas. “Você não tem medo?”, pergunta o protagonista Nando (Johnny Massaro) à médica que o atende após o diagnóstico, enquanto ela encosta nele sem luva, máscara ou incômodo. Como Greco, ela responde que eles já conhecem os modos de transmissão.
Segundo o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (UNAids), existiam 37,6 milhões de pessoas vivendo com HIV no mundo em 2020, ano em que foram registradas 690 mil mortes relacionadas à Aids. 77,5 milhões de pessoas já foram infectadas pelo vírus e 34,7 milhões morreram. Infelizmente, o assunto está cada vez mais longe de ser apenas memória de algumas décadas atrás. (Cynthia Araújo/Folhapress)
Segundo as Nações Unidas, existiam 37,6 milhões de pessoas vivendo com HIV no mundo em 2020. (Foto: Reprodução)